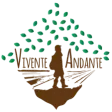Dirigido por Michael Tyburski, Desperta-me é lenta produção que nos transmite do tédio ao êxtase, em uma poesia sobre o que vale a pena viver
Quando criança, eu costumava assistir Star Trek: A Nova Geração (1987, Gene Roddenberry) com meu pai. Entre tantos episódios, um dos que mais gerou conversa entre nós foi o da 5ª temporada, episódio 6, em que a tripulação da Enterprise se vicia em um jogo de headset cujo único objetivo era colocar uma bolinha dentro de um buraco, resultando em prazer imediato. Meu pai explicou que aquilo era uma metáfora para o sexo, e, assistindo a Desperta-me, de Michael Tyburski, recordei dessa conversa, e o modo que duas ficções científicas, de maneiras tão distintas, conseguem naturalizar um tema ainda tratado como tabu: o do prazer em todas as suas formas.
Enquanto Star Trek recorre à tecnologia, Desperta-me constrói um universo distópico em que os humanos são privados de sentir qualquer emoção. Neste contexto, a vida é apática, sem riscos ou aventuras, em resumo: cinza. Mas quando Joy, nome que, não por acaso, significa “alegria” em inglês, deixa de tomar o remédio obrigatório, sua percepção do mundo se transforma, e ao lado de seu parceiro William, descobre uma vida imperfeita, mas vibrante e, sobretudo, prazerosa.

Nick Robinson e Bel Powley em cena de “Desperta-me”- Divulgação Festival do Rio
Tecnicamente, essa transição é visível: o cabelo solto de Joy, seu andar mais livre, suas roupas mais leves, e uma mudança nem um pouco sutil na fotografia também reflete essa mudança, saindo de uma paleta acinzentada para cores mais vivas à medida que a narrativa avança, tanto na direção de fotografia, quanto na direção de arte que faz crescer os ambientes.
Embora Desperta-me tenha como centro o despertar sexual do casal, sua mensagem é bem maior: trata-se, acima de tudo, de viver, e mesmo com um ritmo arrastado, causando a sensação de ultrapassar a duração de uma hora e quarenta, Tyburski traduz com potência a sensação de tédio inicial, fazendo com que a catarse posterior se torne muito mais potente.
A obra dialoga com a Greek Weird Wave, lembrando O Lagosta (2015, Yorgos Lanthimos) em sua representação da indiferença humana, mas também ecoa Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004, Michel Gondry) e até Palm Springs (2020, Max Barbakow), na medida que todos estes filmes pertencem a um subgênero que reflete sobre sentimentos e sobre a importância de enfrentar a vida, cada qual com sua tonalidade, ora melancólica, ora otimista, como em Desperta-me.

Nick Robinson e Bel Powley em cena de “Desperta-me”- Divulgação Festival do Rio
Apesar da narrativa lenta, a produção se mantém interessante por conta de absurdos que roçam o cômico, como o longo plano estático em que William e Joy descobrem o prazer do toque, contudo, em sua essência, a trama é sombria, sobretudo quando vemos Frank confrontando a rejeição amorosa de sua parceira, ou a história do bebê de Samantha. Esta dores ecoam nossa própria realidade, e é aí que o filme cumpre o papel das melhores ficções científicas: usar mundos distópicos e fantasiosos para refletir questões atuais e humanas, demonstrando que não é fraqueza sentir amor, prazer e tudo o que gira em torno do pathos.
A trilha sonora reforça essas sensações: músicas clássicas acentuam tanto o tédio quanto a nostalgia, e, ao encerrar com The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore, a produção reafirma que, apesar das dores e dificuldades, há amor, amizade e prazer em viver, e apesar de ser um filme intimista demais para seu próprio bem, a produção surpreende com a franqueza em seu retrato da vida.
Desperta-me foi assistido em sessão no 27º Festival do Rio.
Siga-nos e confira outras dicas em @viventeandante e no nosso canal de whatsapp !