Fui preencher um boletim online para registrar um assalto do qual fui vítima no domingo passado ao voltar para
casa. “Muito prático”, pensei na hora. Sem idas e vindas e sem mais gasto de dinheiro que nessa hora nem tinha mesmo, havia ido tudo na bolsa. Munida com meus dados comecei a preencher a papelada digital até que esbarro em um velho obstáculo conhecido. Na opção que informa sobre cor e raça dou de cara com as opções:
? Branca
? Preta
? Parda
? Indígena
? Amarela
? Não declarada
Empaquei ante a difícil decisão. Não que eu tenha nenhuma dificuldade em termos de identificação enquanto
pessoa de cor. Filha de um homem preto que casou com uma moça branca e loura para “limpar” a família, como diziam antigamente, neta e bisneta de negros que nasceram em cativeiro (vi na certidão que minha avó nasceu em 1918, 30 anos após a abolição), sempre tive muito claro em minha mente a minha genealogia, descendência e ascendência africana. A questão aqui não era eu, mas sim, como me viam os outros.
Cor
Desde que me entendo por gente, tive que conviver com a dificuldade das pessoas ao meu redor em decidir sobre
minha cor e etnia. Dependendo de vários fatores, contexto da situação, hora e local do acontecimento, da visão, e até mesmo do humor do avaliador em questão, já fui declarada preta, branca, negra, morena e mulata, conforme a ocasião e até mesmo de indígena, amarela e até parda. Para ofender, eu era a preta gaiata. Para adular era
minha branca.
Negra para me colocar no meu lugar, morena tropicana para me namorar, mulata para me conformar que apesar de negra eu era uma negra bonita, uma excelente companhia para um momento de diversão, mas não uma boa companheira para uma vida inteira, não para subir ao altar, as avós não queriam ter netos com cabelo encarapinhado, duro de pentear, signo irrefutável de um passado ancestral marcado à ferro, fogo e muita pancada. Neto de cabelo duro, isso não, nem pensar.
Na família por parte de pai era outro impasse. Preta, branca ou morena? Depende também. Uma tia das antigas,
preta retinta, costumava me chamar de branca com profunda satisfação, e, para ela, constituía uma verdadeira ingratidão quando eu retrucava irritada: Sou branca não, tia, sou negra. A minha resposta belicosa sempre causava desavenças entre nós duas. Uma verdadeira ofensa, profunda ingratidão!
Tanta dedicação para limpar a família, ter o capricho em desposar moça branca, e eu insistia em dizer aquele absurdo. Alguns parentes também me viam como aquela que havia dado azar de nascer com um ‘’cabelo crespo’’, uma pena que a manobra de clareamento não havia dado certo, pois reza a lenda que sangue de preto é mais forte e o resultado era eu nascer com a pele clara e cabelo de nego, que azar, azar mesmo, diziam balançando a cabeça com tristeza. Tu é até uma mulher bonita, mas esse cabelo.
Azar?
Uns, um tanto mais otimistas, não criam que eu era azarenta e de fato tivera muita sorte, pois havia muitos
recursos já nos anos 80, para disfarçar a minha “disfunção genética e social”, por essa época já tínhamos do pente
quente ao henê, passando pela touca de gesso (entendedoras, entenderão), e daí era só amansar o brabo que eu poderia passar livremente como uma mulher branca na sociedade e ter mais acesso a emprego ou marido.
É, a vida ensina. Hoje, tenho consciência dos motivos que empurraram a velha tia que nasceu com o “pé no tronco”
a rejeitar na sobrinha as características que a poderiam privar de um futuro melhor. Um destino mais claro e iluminado. Agora entendo porque ela não entendia a minha cisma em querer ser preta quando o Deus branco, não Obatalá ou Xangô, me havia concedido a benção de nascer com a pele clara. Agora entendo, mas foi preciso a vida ensinar. Hoje eu entendo, o meu dilema ancestral. No lado que se julgava branco, pelo menos, não havia
dúvidas. Eu era preta mesmo. Pelo menos da parte deles havia um consenso.
As horas vão passando e eu fico um bom tempo e eu com o dedo em riste paralisado, numa dúvida que me
acompanhou na infância e daí para a vida adulta. Navego nessas reminiscências, em lembranças de um passado não tão passado assim, pois, não faz muitos dias, fui duramente questionada por uma conhecida sobre o uso do turbante e a predileção pelas minhas tranças nagô, isso é coisas de preto, mermão. E ante a minha invariável resposta: Vixe, Maria, mulher, tu não é preta, não. Não diga isso, gosto tanto de você…. Interpretando: se tu for preta mesmo, teremos que cortar amizade.
Faço todas essas reflexões enquanto encaro a tela do notebook e tento decidir que opção me encaixo na opinião dos que mais tarde lerão a minha queixa. Pois dependendo de quem estiver do outro lado, minha informação poderá ser vista como verdadeira ou falsa. Impasse.
Olho o relógio, duas horas se passaram. ‘’Isso era pra ser prático’’. Então rolo um pouco mais o mouse e pra
encurtar a história clico naquela última opção:
? Não declarada.
Fecho meu computador e vou para cama.
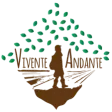







Fiquei emocionada e mexida. Esse texto é tão real e necessário que parece muitas de nós falando.
Olá, Larissa. Que bom que gostou! História de nossa vida. Mulher preta, preta mulher.
Estou reflexiva com a escrita e pensando muito na questão racial e o colorismo. Muitas vezes estamos em um não-lugar.
Olá, que bom que tenha entrado nesse estado reflexivo, Elizabeth, pois esse é o ponto de mutação. A partir daí é que mudamos nossa perspectiva interior, a percepção que temos de nós mesmas para enfim encontrarmos o nosso lugar.