Sede
Era setembro de 2008 e me tranquei naquele pequeno depósito que tínhamos em casa, com uma garrafa, um livro de poemas e as lágrimas que me devoravam. Toda minha extensão soluçava por entre inércias da existência enquanto você batia na porta do outro lado do mundo.
O depósito era meu ventre secreto, e a sede uma onda sem oceano. Exagerei nesse dia a ponto de você esconder todas as chaves. Eu lembro que você reclamava que eu vivia fechada, e por não gostar na verdade das portas, você suspendeu todo vestígio dos trincos. Daí abri as janelas contemplei a rua. As buzinas dos carros. Não ouvia coisa alguma lá fora, apenas olhava. E enquanto você falava, não te via, mas te escutava. Eu só queria uma pausa na loucura dessas horas, sempre tão cambiantes e fugidias.
O que meu corpo poderia fazer diante da angústia de existir, a não ser deixar-se morrer por entre goles e marés? O que você entenderia do meu inferno? Do alucinado espanto que me consumia e me exasperava a lucidez? Eu era ao menos mil anos mais velha em um desespero devastador que meus braços não sabiam alcançar – tampouco reter, mesmo sendo parte de mim. Lembra que eu inventei um nome para o meu desespero? Uma onomatopeia para deixar transparente o inominável do meu sofrimento. Mas de tanto buscar achei a cesura dos trincos: a porta do mundo tinha um trinco embutido. Não falei, desculpe-me: eu precisava de um estilhaço.
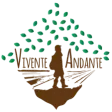







aquelas trancas e chaves e portas e a verdade gritando lá fora
Belo verso, não? E a cara desse momento de coronavírus e pandemia mundial.